O vídeo comentado é este.
O vídeo comentado é este.
Semana passada, um amigo que está estudando em Portugal recebeu a notícia do falecimento de seu avô e escreveu o seguinte texto que agora compartilho com os leitores:
Foi com surpresa que recebi a notícia:
– O seu avô está no hospital, em estado grave.
Foi um choque. Como seria possível, assim, de uma hora pra outra? Logo me pus de joelhos, chorando, a rezar a velha oração aprendida da minha avó, nas noites da infância:
– Ave Maria, cheia de graça…
E assim que pude, corri ao hospital.
A cena era arrasadora. Vi a angústia nos olhos da minha avó; o cansaço no rosto da minha mãe. E ele, desacordado, cheio de tubos, agulhas, fios, agonizando. Contrariando as regras, cheguei junto ao leito, acarinhei a sua cabeça e lhe disse ao ouvido: “Força, vô, eu estou aqui. Que Deus o proteja”.
Apresento aos leitores um interessantíssimo quadro comparativo entre os ritos latinos como estavam na Idade Média:
Alerto, contudo, que certas simplificações inevitáveis foram feitas, como, por exemplo, no caso dos prefácios, onde só foi apresentado o mais comum, já que certos ritos, como ambrosiano, possuem um prefácio diferente para quase todas as missas.
Tanto no rito gregoriano quanto no paulino as últimas palavras do Prefácio levam diretamente ao Sanctus:
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus dos exércitos celestes.
Plenos estão o céu e a terra de vossa glória.
Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas.
O texto, baseado em Isaías VI, 3, já era usado em liturgias orientais desde pelo menos a segunda metade do terceiro século ou o começo do quarto século. Os Padres Latinos do mesmo período que comentaram sobre a citada passagem bíblica, não fazem nenhuma alusão ao seu uso litúrgico.
Os liturgistas parecem divididos sobre o momento em que o Sanctus foi introduzido na liturgia de Roma, e se ele era cantado pelo povo. De qualquer forma, por volta do oitavo século sabemos que ele não era cantado nem pelo celebrante nem pelo povo, mas pelos subdiáconos regionais.
No rito tradicional, o padre recita o Sanctus (com ou sem o povo) e imediatamente começa o Canon (numa Missa Solene o diácono e o subdiácono também o recitam). Numa Missa Cantada, enquanto o celebrante, num tom baixo, recita essa oração e começa a parte central da liturgia, o coro (acompanhado ou não pelo povo) canta o seu texto. As rubricas prescrevem que o sacerdote faça uma inclinação moderada enquanto diz a oração e o sinal da cruz na frase “Bendito o que vem em nome do Senhor”.
No rito paulino o presidente e a assembleia devem cantar ou recitar o Sanctus juntos. Se a congregação cantar, naturalmente, as melodias empregadas devem ser bem simples. Os cantos gregorianos mais complexos (presumindo que a “pastoral litúrgica” queira usá-los) devem ser postos de lado, assim como todo o tesouro da música polifônica composto para corais do século XVI em diante.
Observa-se, portanto, que a insistência de que o Sanctus seja uma música congregacional é mais um pequeno divórcio do rito moderno de tudo que veio antes dele.
Fontes:
Cekada, Anthony. Work of the Human Hands, p. 308. Philotea Press, EUA, 2010.
De Musica Sacra et Sacra Liturgia, n. 31, c.
Instrução Geral do Missal Romano, n. 79, b.
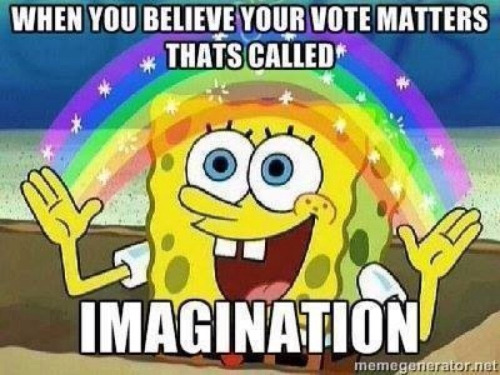
Já disse noutra oportunidade que tenho muitas restrições ao pensamento do professor Flávio Brayner, do Centro de Educação da UFPE, tanto no campo pedagógico quando no administrativo, mas é fato que ele representa um tipo de esquerdista que quase não se encontra mais, isto é, um que de fato leu as obras que cita e que tem uma visão não sectária da atividade política. Desse modo, fazendo eco às palavras do Apóstolo: “Examinai tudo: abraçai o que é bom”, li um artigo recente dele (Jornal do Commercio, Recife, 27 de novembro de 2016) que possui uma crítica ao hedonismo contemporâneo plenamente aceitável num contexto conservador, e que compartilho agora:
Dois eventos importantes ocuparão as páginas dos jornais nos próximos dois anos: o bicentenário da Revolução Pernambucana e os 50 anos do Maio de 68 (Paris).
Vou comentar o último evento. Normalmente entendido como “um raio caído em pleno céu azul” ou uma “brecha” aberta na sociedade burguesa, na moral sexual, nas hierarquias das relações ou uma ruptura com a esquerda marxista, descortinando o universo do hedonismo moral, ali se viu a realização do princípio do prazer na política. Mas o fato é que os eventos de 68 produziram duas consequências radicais: um neo-rousseaunismo encarnado no movimento hippie e o terrorismo de esquerda vazado num desejo “progressista” de transformar o social pela violência.
O filósofo francês Luc Ferry vem, no entanto, sustentando outra tese: a de que 68 só é compreensível nos quadros do pensamento anti-humanista contemporâneo (a fobia estruturalista pelo sujeito e a crítica pós moderna à ideia de “homem” produzida pelo humanismo). O outro lado dessa história é que, ao demolir as formas hierárquicas tradicionais, inaugurando uma outra ética do prazer e da felicidade pessoal, terminou-se por abrir as comportas do patológico hiperindividualismo contemporâneo. Ou seja: a crítica radical produziu o umbilicalismo como norma de vida, a cultura do narcisismo, a débâcle das autoridades familiares, pedagógicas, políticas… A dupla Tocqueville-Marcuse venceu Marx!
Se a antiga ética do dever e da contenção pessoal exigia freios e impunha impedimentos, ela fora substituída por outra, cuja marca principal é o desejo da eterna euforia, de privatização da vida, da “liberdade” sem autonomia nem independência de nossos “jovens”, de sucesso pessoal, perfomático, competitivo que o chamado “neoliberalismo” apenas institucionalizou, mas não criou. A sociedade do hiperconsumo é a expressão definitiva desta mudança.
Essa ética do trabalho pós-calvinista, com suas exigências de meritocracia competitiva e de “empreendedorismo”, aponta para um impasse: a sociedade civil moderna foi pensada como abdicação de parte da liberdade privada para a construção do bem comum. Como nós não pretendemos mais abrir mão da nossa liberdade privada, também não podemos mais construir “bens comuns” (republicanismo) e ficamos à mercê de um mercado que explora desejos e administra egos.
 O diálogo genuinamente fraterno não esconde a verdade, mas de fato sofre com o outro, que se encontra (provisoriamente) afundado no erro. A pior coisa seria falsear a verdade, para não desagradar, para evitar suscetibilidades perfeitamente razoáveis e compreensíveis (dado o envolvimento pessoal do interlocutor com o assunto), e, até, aceitar como positivo aquilo que é intrinsecamente mau e errado. Não só porque se perde toda a credibilidade e o respeito, mas sobretudo porque não adianta – e, ao cabo, amanhã ou mais tarde, a verdade se imporá.
O diálogo genuinamente fraterno não esconde a verdade, mas de fato sofre com o outro, que se encontra (provisoriamente) afundado no erro. A pior coisa seria falsear a verdade, para não desagradar, para evitar suscetibilidades perfeitamente razoáveis e compreensíveis (dado o envolvimento pessoal do interlocutor com o assunto), e, até, aceitar como positivo aquilo que é intrinsecamente mau e errado. Não só porque se perde toda a credibilidade e o respeito, mas sobretudo porque não adianta – e, ao cabo, amanhã ou mais tarde, a verdade se imporá.
– José Luiz Delgado (Jornal do Commercio, Recife, 3 de setembro de 2016)